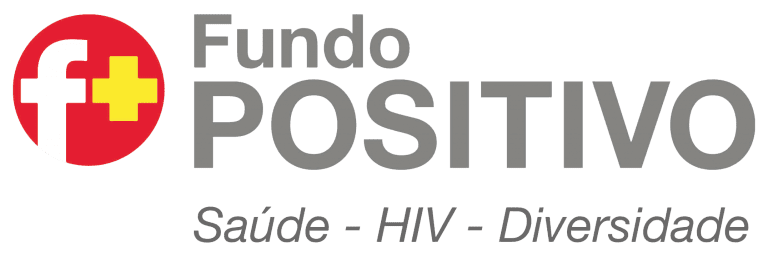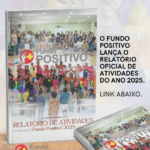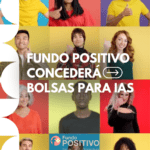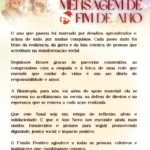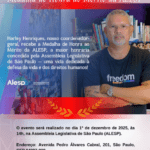Gostaria de tecer alguns comentários com base no caso abordado na matéria “Denúncia: Hospital Municipal do Campo Limpo é acusado de transformar em pesadelo parto de jovem soropositiva”.
Infelizmente, a ironia na afirmação “agora aguenta a dor” não é nova, nem restrita às mulheres soropositivas, reproduzindo no imaginário coletivo a ideia de que parir é sofrer e sofrer em decorrência de momentos de prazer. Paradoxalmente, não raro, frase repetida por mulheres.
O fato de ser uma jovem soropositiva agravou a situação. Somente a gravidez na adolescência já leva a associações simplistas, como um ‘prazer desenfreado’, ‘irresponsabilidade’ ou ‘burrice’, escondendo inúmeros fatores psicossociais que podem estar permeando tal fato.
De acordo com a paciente Carolina: “Quando ela [a médica] descobriu que eu não estava com o exame de carga viral, passou a dizer que eu era irresponsável por não estar com o exame, por ser jovem soropositiva e ter engravidado, mesmo sabendo do risco de contaminar o meu filho, me acusou de não levar o tratamento a sério, de ser egoísta por não deixar meu bebê nascer. Disse que eu não gostava do meu filho e queria que ele nascesse doente”.
Há três pontos que me parecem importantes destacar. O primeiro diz respeito ao grau de conhecimento e, inclusive, de informação por parte dos profissionais da saúde sobre HIV/aids. Não somente quanto a questões obstétricas, de biossegurança e éticas, no campo do trabalho, mas também no que se refere à ética da convivência, que é, ou deveria ser, um pressuposto das campanhas de informação, já que devem contribuir para, se não superar, minimizar situações de pré-julgamentos (preconceitos) e discriminações, por exemplo, quanto à decisão de engravidar por parte de uma mulher com HIV e – por que não? -, de uma jovem mulher com HIV.
Se havia conhecimento técnico-médico, a situação, a meu ver, é mais grave. O fato de a paciente ter comunicado sua sorologia à equipe demonstra que seu interesse não era o de omiti-la. Pelo contrário, os exames mencionados ajudariam em sua recepção no hospital. O que chama a atenção é o fato de ter parecido uma situação nova para os profissionais, do ponto de vista médico e psicossocial.
Entretanto, de acordo com o relato de Carolina, houve uma boa orientação no SAE (Serviço de Assistência Especializado) e isso, por sua vez, certamente contribuiu positivamente. Também evidenciou a necessidade do serviço especializado para HIV/aids e da intensificação da prática intersetorial, que depende sobremaneira dos tomadores de decisão na Saúde, não podendo ficar a cargo somente dos profissionais que estão na linha de frente, sob risco de gerar mais vulnerabilidade institucional para os pacientes.
Em segundo lugar, evidencia-se a fragilidade do treinamento da equipe médica e, consequentemente, um problema ético. Isso pode estar relacionado a vários fatores, como a falta de experiência profissional com pacientes vivendo com HIV/aids, o pouco tempo como profissional de saúde/funcionário concursado e a ausência de treinamentos e atualizações técnico-científicas para os profissionais.
A indicação de superdose do AZT e aleitamento materno demonstra total desinformação e falta de conhecimento e isso em um momento em que o estado de São Paulo caminha sob a meta de zerar a transmissão vertical do HIV. A situação é gravíssima porque desde os anos 90 a posição do Ministério da Saúde é clara. Devido às dúvidas, na época, em torno da posição diferenciada no Brasil, se comparado a países em desenvolvimento, o Ministério da Saúde divulgou recomendações a respeito, em 1995 – leia aqui – nas quais se lê: “As mulheres infectadas pelo HIV não devem amamentar seus próprios filhos, nem doar leite. Os filhos de mães soropositivas para o HIV que necessitem do leite materno como fator de sobrevivência, poderão receber leite de suas próprias mães, desde que adequadamente pasteurizado”. O que levou à Portaria No. 2.415 de 12 dez. 1996 – leia aqui – do Ministério da Saúde, registrado na publicação “Implicações Éticas de Diagnóstico e da Triagem Sorológica do HIV” — leia aqui — (de 1994, revista e atualizada na edição de 2004). As recomendações sobre o uso do AZT em recém-nascidos, do mesmo modo, tem sido amplamente debatidas e estão presentes no Consenso Pediátrico de Aids – leia aqui – com atualização publicada no ano passado, além de outros manuais, orientações e publicações.
Ou seja: as informações existem, o conhecimento médico existe, já debatido, normatizado, publicado e os profissionais desse serviço hospitalar parecem desconhecer.
Do mesmo modo, tudo indica que perdura o deixar para depois o cuidado com o cuidador, porque o relato sobre o nervosismo e a irritação da médica, seja pela paciente, seja por sua tia – que entrou não no começo, mas já na metade do processo do parto – faz-nos relembrar o medo de profissionais, especialmente envolvidos em cirurgias, devido ao risco de se infectarem pelo HIV em acidentes cirúrgicos. Perfeitamente compreensível antes dos debates sobre biossegurança e o início da PEP – Profilaxia Antirretroviral Pós-Exposição de Risco para HIV –, para profissionais da saúde e mulheres vítimas de violência sexual, desde os anos 90, que, no corrente ano, foi revista e atualizada para não somente casos de acidente ocupacional e violência sexual, mas também de relação sexual consentida.
Por último, mas não menos importante, o papel do movimento social, nesse caso por meio do Mopaids (Movimento Paulistano de Luta contra a Aids), continua sendo fundamental. O caso de Carolina é exemplar, mas certamente não é o único e o movimento contribui ao atribuir caráter coletivo ao problema e ser vigilante quanto à necessidade de mudanças a respeito, inclusive diferenciando o que lhe diz respeito daquilo que é da competência governamental.
Artigo de Cristina Câmara, socióloga e consultora na área da Saúde.
Publicado originalmente pela Agência de Notícias da Aids, em 03/10/2015.