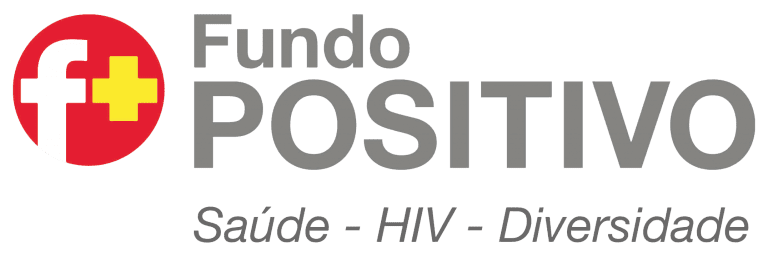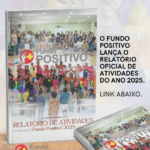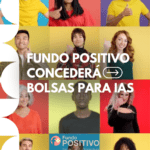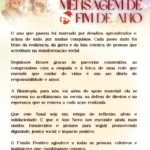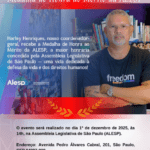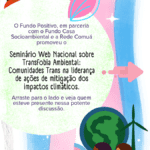Epidemiologista está desde o final de 2019 na Ásia, onde coordena um trabalho voltado ao combate da aids e hepatites










O médico epidemiologista Fábio Mesquita, que também é membro do corpo técnico do Departamento de HIV e Hepatites Virais da Organização Mundial da Saúde (OMS), está desde o final de 2019 em Mianmar, na Ásia, onde coordena um trabalho em sua especialidade: aids e hepatites virais.
Ele chegou ao país quando começaram os casos de coronavírus na China, que faz fronteira com Mianmar. Assim, Mesquita se juntou a outros especialistas para coordenar a equipe de emergência da OMS em resposta à ameaça da doença. Em entrevista para A Tribuna, o médico avalia o avanço do vírus, a situação do Brasil, estudos sobre medicamentos e os aprendizados que a pandemia oferece.
•Como membro do corpo técnico da OMS, o que o senhor tem a dizer sobre o coronavírus? A doença já atingiu o seu pico de forma global?
Essa pandemia não é diferente de outros ciclos muito importantes que tivemos, mas hoje há um outro nível de globalização, com o tanto de pessoas que viajam e o quanto os países se relacionam. A disseminação desse vírus é muito rápida. Aquilo que foi o ápice na China já não é mais. Depois, o ápice foi a Europa, mas já está em declínio, e agora o foco são as Américas. Haverá focos em outras regiões, provavelmente na África. Por isso, o pico da doença está longe de ser atingido.
•Na China, há comentários sobre uma segunda onda de contágio da doença. No Brasil, também seremos afetados por isso?
A segunda onda da doença é teoricamente possível, mas com volume e impacto menores. O que tem acontecido é que China e Coreia do Sul começaram a receber casos importados da Europa, dos Estados Unidos e de outros países.
•No Brasil, parece que a cada dia prorrogam a previsão sobre o pico da doença. Em que momento o País se encontra?
O problema do Brasil é a falta de testes. Isso subestima o problema do impacto da covid-19 no País. É um problema mercadológico, pois faltavam testes e a Fiocruz não conseguiu produzir o suficiente. De certa forma, a falta de testes faz com que, provavelmente, possamos multiplicar os dados oficiais por cinco ou seis para chegar ao número de casos no Brasil. O principal problema que temos para enfrentar é como conseguiremos retardar a disseminação da doença por um período e ter um menor impacto no sistema de saúde? Alguns governadores entenderam isso e, mesmo tendo tomado medidas extremamente positivas, propondo distanciamento social, a população não necessariamente seguiu as instruções. De qualquer forma, a epidemia no Brasil está muito longe do pico, infelizmente.
•Acredita que voltaremos às atividades antes do fim do primeiro semestre, mesmo ainda sem uma vacina?
Cada país está definindo uma estratégia. Claro que é uma preocupação e ninguém minimiza isso. Ao mesmo tempo, as economias mais fortes do mundo, com estruturas fantásticas e recursos, como Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, ainda mobilizam muitos recursos para que não haja impacto na economia. Você pode tranquilamente manter o distanciamento social, não lotar serviços de saúde e, ao mesmo tempo, manejar o setor econômico. Vários países fazem isso de forma adequada. Existem muitas estratégias que já funcionaram e são boas.
•O atrito entre o presidente Jair Bolsonaro e alguns governadores atrapalha a contenção da disseminação da doença?
Globalmente, esse é um momento de união, não de divisão. Quando as pessoas sentem que a divisão pode acabar criando problemas, elas buscam alternativas e isso é muito interessante nessa crise global. Para dar alguns exemplos, recentemente um presidente de um país resolveu cortar recursos da Organização Mundial da Saúde (OMS) e, em contrapartida, a gente teve a cantora Lady Gaga arrecadando US$ 35 milhões (cerca de R$ 200 milhões) em um dia e montando um festival que arrecadou mais dinheiro.
•Qual a mensagem da OMS?
A informação que a OMS tem passado ao mundo é bem clara, baseada em uma decisão de 30 de janeiro, quando foi declarada emergência de saúde pública de importância internacional. Falamos sobre as várias medidas de prevenção e a importância do isolamento social como uma das ações mais estratégicas. Entre os países que seguiram isso, a maioria teve o início da reversão da epidemia em um período mais curto. Há dados impressionantes na China, Itália e Coreia do sul.
•Como o senhor observa a mudança no comando do Ministério da Saúde?
Cada liderança política responde de forma diferenciada a essas questões, mas a maioria tem seguido as recomendações da OMS, porque não são baseadas na opinião do nosso diretor-geral, Tedros Adhanom, e sim no que diz um comitê com alguns dos melhores cientistas do mundo. Eles têm avaliado tudo o que acontece, como os países respondem e por que fazemos essas recomendações. Temos uma política muito clássica, que é a das melhores práticas: aprender com aquilo que já aconteceu.
•O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, anunciou avanços nas pesquisas e testes com um medicamento contra a doença. O remédio teria 94% de eficácia, baixo custo e poucas contraindicações. É possível ter esperança?
As pesquisas em seres humanos não funcionam assim. Você não tem como fazer isso dessa maneira. Há muita especulação, mas nenhuma prova científica no momento. Continuamos estudando para achar a melhor forma de tratar os pacientes e esses estudos devem ter conclusão em breve. Além disso, há grande investimento em uma vacina que seria a melhor solução, mas isso demorará.
•A sensação é que a vida parou e, mesmo que tudo melhore, viveremos em alerta. Problemas como esse tendem a ser frequentes?
O intervalo entre as crises da Sars e da Mers foi de dez anos. Já entre a Mers e a covid-19, oito anos. É claro que a gente precisa estar preparado e preocupado. A OMS, nos últimos cinco anos, tem investido muito, criou um setor enorme de emergência e tem trabalhado com isso por conta de problemas como ebola e outros, que vão continuar surgindo. Os países têm de estar preparados e conectados. O Brasil tem a vantagem de possuir um sistema de saúde como o SUS, que pode responder rapidamente, embora não tenha como ser utilizado por muita gente doente ao mesmo tempo.
•Ouvimos falar que, uma vez contaminada, a pessoa cria anticorpos para a covid-19. Entretanto, surgem registros de pacientes reinfectados. Afinal, é possível ter a doença duas vezes?
Até aqui, não temos uma resposta completa para esse tópico. É esperado que as pessoas adquiram os anticorpos, fiquem imunes e evitem a reinfecção, que só ocorreria se existissem subtipos diferentes do vírus. O que aconteceu é que há alguns vírus com diferenças pequenas, que não caracterizam exatamente um subtipo. Todos os casos que a gente viu de pessoas com alta e que voltaram a ter covid-19 são mais considerados como recaída e multiplicação do vírus.
•O senhor atua há quase dez anos na Ásia e muitas dessas doenças têm como origem esse continente. Qual o motivo?
Até agora, tivemos duas doenças que começaram na China. A primeira foi a Sars, que aconteceu há quase 20 anos, e agora a covid-19. Em 2009, teve o H1N1, que começou no México. Em 2014, houve a disseminação internacional do vírus da poliomielite, que era considerado extinto e, ainda em 2014, o surto de ebola na África Ocidental. Em 2016, o zika vírus, no Brasil. Em 2018, o surto de ebola na República Democrática do Congo. Ou seja, nem tudo que acontece no planeta começa na China.
•Qual a lição que essa pandemia nos deixa?
Primeiro, temos que remediar o problema que está aqui e não vai embora só porque a gente deseja. Essa pandemia requer preparação para que as pessoas não se contaminem e que o vírus não se dissemine ou faça isso de forma lenta. Depois, é preciso adaptar os serviços de saúde para tratar 80% das pessoas que terão casos médios ou leves e os 20% que precisarão de internação. Agora é momento de urgência, mas é claro que não devemos deixar de nos preparar para as próximas pandemias. Isso será importante para que a gente não seja pego de surpresa.
Fonte: A Tribuna